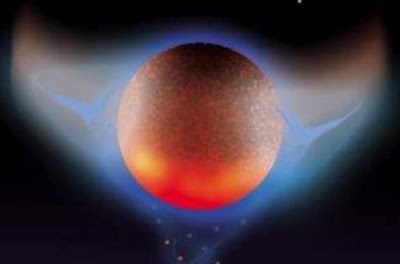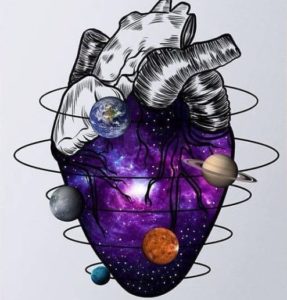Caso um corpo celeste caísse no
centro do Museu do Louvre e com isso uma cratera imensa se abrisse engolindo o
mesmo com toda sua produção histórica de uma vez por todas... O que
efetivamente mudaria em sua existência?
Provável e certamente, nada.
Provavelmente também alguns nem
sabem o que seja o Museu do Louvre, onde fica e a que se presta, outros menos
atentos, talvez não saibam sequer o que seja “corpo celeste”.
O que se fez na história da
humanidade e a forma como damos valor a isso, seja a um quadro, escultura,
música, dança, morre no decorrer de alguns parcos anos. Tivemos muitos
incêndios em acervos históricos, fossem esses de causas naturais ou causados
pela repulsa humana, a exemplo da Biblioteca de Alexandria e de todas as
imagens antiquíssimas que foram “assassinadas” à tiros no Oriente Médio. Quem
se lembra disso, ou quem precisou delas para viver até agora?
Afinal, de que estamos falando
aqui? De valores. De importâncias que damos a isso ou aquilo, a ponto de
chegarmos a dar um preço ou ficarmos presos, lutar por, ou petrificadamente temer. Seja a Torre Eiffel,
ou a minha capinha de celular nova.
A identidade emocional e a carga
de sentimentos que emprestamos a esse conjunto de saberes, conhecimentos morrem
a cada geração que se passa no interregno de parcos 50 anos. Meio século é
suficiente para sepultar a música que tanto adorávamos e que violava os ouvidos
de nossos pais, que por sua vez o fizeram com nossos avós. Cíclico.
Defendemos com unhas e dentes que
o vinil é melhor que o CD, ao passo que nós mesmos não usamos nem o CD e nem o
pen drive. Acessamos nossas “melhores” músicas pelo ar, através das “malditas”
ondas eletromagnéticas. E sequer temos senso musical para diferenciar esse tom
daquele meio tom. Queremos consumir o que nos enleva, o que nos liberta, o que
nos prova sermos radicais e revolucionários. Sequer sabemos que as faixas de
frequências musicais foram adulteradas no curso da 2ª Grande Guerra Mundial, e,
para falar a verdade, o que mudou atomicamente dentro de nós com isso?
O vegetariano, o carnívoro, o
abstêmio, o alcoólatra, o sedentário, o atleta. No passo de 30 anos – caso não
sejam derrotados pelos ataques que a existência lhes impõe – chegaram além da
meia idade iguais. Um pouco mais de peso, menos cabelos, rugas que se tenta ocultar com os cremes da moda (eis que os que haviam de suprassumo há 50 anos, não
prestam).
O que precisamos ostentar em
nossas tribos é o que nossos agrupamentos de afinidades defendem. Defesa essa
(ou ostentação) que somente é possível no grupo.
O que a solidão forçada tem
provado? Que não tem graça entornar quatro garrafas de cerveja sentados à mesa
de nossa cozinha; que o corte de cabelo ou a barba escanhoada não serviu para
nada. Que o esmalte carmim reluzente nas unhas ninguém viu. Quantas abdominais
eu fiz ou a dieta especial de frutas e jejuns intermitentes. Ou cigarros, ou
churrascos... não há por que mostrar ou fazer.
Dormir além da hora, cansa.
Comer além do necessário, cansa.
Cozinhar sozinho, exercitar-se,
ler, assistir lives, vídeo chamadas, mensagens, filhos, pais, o tão sonhado trabalho
em casa. Cansa.
Somos seres construídos para nos
sociabilizar. Com a liberdade de não o querer e voltar para um teto dito nosso
quando assim bem o quisermos. Desde que maiores e vacinados. Desde que não se
tenha um pai ou mãe idosos para cuidar. Desde que não se tenha um marido, uma
esposa que nos vigia. Desde que não se tenha que levantar cedo amanhã. Desde
que nossa liberdade tão sonhada não chegue!
Sim, temos medo da liberdade.
Tememos aquilo que usamos sempre para nos defender e nos justificar de nossas
incapacidades, frustrações, recusas, impotências... sonhos. Sermos livres onera com uma responsabilidade
pessoal e intransferível de compromisso. Tememos o amor. O carinho. O afeto, a
sexualidade, pois isso subtrai de nós a liberdade que temos de não sermos
livres.
Compromissos geram obrigações,
cobranças e isso não nos convém. E assim, melhor não sermos livres para
podermos sentar-nos à mesa filosófica do bar e reclamarmos sobre nossa prisão.
Melhor nada sabermos, pois na nossa ignorância adestrada pela nossa má vontade
em sermos livres e destemidos, continuaremos “protegidos” no fim do dia, sob o
telhado de nosso lar.
Agarramo-nos aos ecos de nosso
passado, na certeza de que não mudaremos, apesar de implorarmos por mudanças.
Que caia um corpo celeste para limpar tudo. Mas torcemos em segredo escondendo
nosso temor, para que nossas “preces” não sejam atendidas.
Olvidamos “panta rei” –
tudo muda – saibamos nós disso ou não. Alguns sequer no leito de morte,
corroídos pelo arrependimento, se permitem a liberdade; ainda acossados nas
costas pelo açoite invisível de uma exigência auto imposta a qual nos agarramos religiosamente
como a nossa ética que dita nossa moral, assim sofrendo, exatamente pelo medo de sofrer.
Suplicamos a mudança, brigamos por ela, mas quando ela nos chega ao colo, tornamo-nos ranzinzas pelo simples fato delas terem mudado. E sempre terceirizando
responsabilidades (ou martirizados pela vitimização).
Sofremos pelo que não temos e não
o teremos, pois tememos por padecida antecipação ilusória, como poderá ser a
perda quando o tivermos.
A felicidade não é desfrutada,
eis que temos o pavor de não a termos amanhã, por mais que nos corta
cirurgicamente o peito a ânsia de querermos ser felizes.
O filme “Agora estamos sozinhos” (I
Think We're Alone Now) pontua magistralmente até o meio da estória – pois é
preciso ter um final – de maneira brutal como a necessidade de estarmos
sozinhos é imperiosa, e como, quando assim temos a solidão, precisamos criar
rotinas metódicas para sobrevivermos ao dia que se seguirá. Assim, quando essa
solidão é quebrada, percebemos revoltados que queremos voltar a termos
solitude, mas, quando essa ameaçadoramente se mostra plausível,
desesperadamente queremos alguém. Alguém para brigar, ou nos ouvir, alguém para
quebrar a rotina, alguém para dividir nosso pensar, alguém para abraçar, beijar
e fazer amor e permitir que sinta o quanto podemos amar e o quanto queremos ser
amados. Simples assim.
Somos capazes de nos adaptar, mas
nos moldar ao ambiente, ao meio, nos condena à extinção. Temos aptidão de irmos
além da borda. Se um rio parasse, seria um lago.
Não preciso deixar um legado para
ser guardado no Louvre. Preciso viver minha existência agora. Seja sentado,
deitado, andando, quieto ou agitado. Impera que tenha consciência de minha
escolha para não me arrepender com medo em meu leito de morte de não ter
olhado, tocado, sentido, chorado, lutado, amado. Apalpando os cabelos brancos e
constatando sozinho o quanto são secos.
Quem se importa se houve esforço
ou atenção ao produzir o que aqui se está escrito, atenção à nova gramática, às
vírgulas, acentuações, normas contemporâneas, se quase ninguém lerá, e muitos,
creiam ou não, sequer sabem ler.